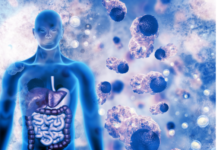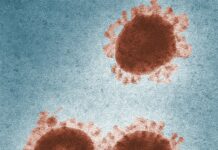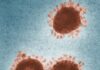Se há um bom hábito que as pessoas criaram nesses tempos de pandemia é o de torcer pela ciência — que, ainda mais aqui no Brasil, precisa mesmo de uma pitada de sorte e uma boa dose de incentivo. E, óbvio, nem só de covid-19 vivem as pesquisas.
No ano passado, enquanto ficamos de olhos vidrados no desenvolvimento de vacinas contra a infecção pelo Sars-Cov 2, pesquisadores do país e mundo afora conquistaram inúmeros outros feitos que também são dignos de aplausos. Quis escolher um deles como exemplo e logo me lembrei da dupla Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna — a primeira, microbiologista e imunologista francesa e a segunda, bióloga molecular americana.
No 2020 terrível dominado pelo novo coronavírus, elas foram laureadas com o Nobel de Química, mas sem talvez os justos holofotes iluminando a importância de seu trabalho para nós, leigos. Ou melhor, as pesquisadoras até chamaram bastante a atenção, e com razão também, por terem formado o primeiro time só feminino a ganhar esse troféu. Outras cinco cientistas já tinham sido ganhadoras nessa categoria no passado, mas sempre dividindo o prêmio com homens.
Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna fizeram demais por merecer o seu Nobel: elas, afinal, desenvolveram a CRISPR-Cas9, a técnica mais precisa que se conhece de edição genética, a qual abre possibilidades incríveis para o futuro da Medicina, reproduzindo em laboratório uma espécie de “tesoura” que, na natureza, as bactérias adquiriram provavelmente há milhões de anos em seu processo de evolução como uma belíssima estratégia de defesa.
Vamos combinar que a oportunidade de mexer aqui e ali no genoma humano — o bendito “livro da vida” que esconde no núcleo de cada célula toda a nossa receita enquanto seres vivos — é um dos maiores sonhos dos cientistas na área da saúde. Lá no fundo, arrisco o palpite, ele existe desde que o monge austríaco Gregor Mendel, ainda em 1850, ficou de olho em ervilhas e descobriu que herdamos caraterísticas dos antecedentes, gerações transmitindo para gerações, graças ao que hoje conhecemos por genes.
Mas, pra valer, a terapia gênica, isto é, a tentativa de corrigir nossas mazelas pela sua raiz no DNA, editando trechos como quem acerta a grafia de uma palavra, surgiu na década de 1980, com muitas tentativas e com muitos erros também.
A vantagem da técnica CRISPR-Cas9 nesse contexto: “Ela pode identificar e cortar apenas uma parte muito específica do DNA, aquela que, antes de qualquer coisa, é determinada pelos cientistas conforme a doença que eles pretendem resolver”, me explica a bióloga Karina Griesi Oliveira, do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em São Paulo.
Dá então para entender a relevância: com essa técnica, para início de conversa, há um maior controle sobre aquilo que se quer eliminar ou mexer. Mais do que isso: o trecho exato com a mutação responsável por um problema pode ser substituído por outro sem mutação alguma. E, se a troca der certo, será um adeus àquela doença hereditária.
Aliás, é o que o time do qual Karina participa, ao lado da biomédica Priscila Keiko Matsumoto Martin, tenta fazer para tratar uma das doenças mais importantes no Brasil e que, paradoxalmente, não deixa de ser negligenciada: a anemia falciforme. Ela é mais frequente em pessoas de raça negra, mas não exclusiva delas.
De cara, um tratamento assim, viabilizado pela CRISPR-Cas9, poderá beneficiar cerca de 10 mil pacientes graves no país, que vivem sendo punidos por essa herança genética, ou melhor, por um único trechinho com mutações em seu DNA, que lhes causa extrema fadiga, dores lancinantes, trombos bloqueando perigosamente a circulação e problemas renais, só para eu citar parte de seu martírio.
Karina, diga-se, já trabalhava com a CRISPR-Cas9 na Universidade de São Paulo, em experiências para buscar tratamentos para o autismo, até ser chamada para a pesquisa voltada à anemia falciforme do Einstein, que começou em 2019.
No mesmo ano, Priscila também foi contratada para a investigação, após passagens pela Universidade Federal de São Paulo e pelo Hemocentro de Campinas, onde pesquisava essa técnica dedicando-se a doenças raras. Pois é, nós também temos uma dupla feminina, à qual recorri para decifrar esse fabuloso universo, cheio de letras e nomes tão indecifráveis para os observadores da ciência que até parece que o tal livro da vida não tem tradução.
O que é a tal CRISPR-Cas9?
Todas as células — sejam as nossas, seja a de uma bactéria — têm mecanismos de reparo na intimidade do seu DNA. Deu algum erro e, pronto, isso é consertado ou, pelo menos, deveria ser. Sim, melecas acontecem o tempo inteiro e, graças a esses mecanismos, nem sequer nos damos conta da absoluta maioria delas.
O que a francesa Emmanuelle Charpentier notou, ainda em 2011, foi que um mecanismo desses era usado por bactérias Streptococcus como uma maneira inusitada de elas se defenderem de infecções virais. Porque, sim, alguns vírus, infinitamente menores do que qualquer bactéria, têm o costume de invadi-las.
O que a Streptococcus fazia então: incorporava pedaços do material genético do vírus instruso em um trecho de seu próprio DNA para depois criar uma enzima, a Cas9, que seria feito uma tesoura muito específica, isto é, pronta para picotar apenas o que fosse idêntico àquela sequência incorporada. Ou seja, se o virus em questão se atrevesse a infectar aquela bactéria uma outra vez, ele ficaria completamente aos pedaços.
Esse trecho do DNA das bactérias, que serve de molde para o que precisa ser reconhecido primeiro e depois cortado, é conhecido como CRISPR (leia, “crísper”), uma sigla do inglês para — respire fundo! — agrupados de curtas repetições palindrômicas regularmente interespaçadas.
É Karina Oliveira que vem em meu socorro: “Nesse tal livro da vida, que é enorme e que seria o nosso genoma, existiria uma sequência de 20 letrinhas. Difícil encontrá-las no meio de tudo, como dá para você imaginar”, diz a bióloga. “Só que, no final dessa sequência, por sua vez, sempre encontramos três letras repetidas, sempre elas, muito específicas, que funcionam então como uma marca de onde a enzima Cas9 deve fazer o corte com precisão.”
Nos laboratórios de genética, a técnica criada a partir disso não tem a ver com uma linha de defesa propriamente. Dando uma explicação muito simplificada de algo pra lá de complexo, a CRISPR no final das contas seria um guia — “a sequência de DNA que vamos fornecer, conforme o nosso objetivo” explica Karina Oliveira, que gosta de compará-la ao comando ” Control + F”, ou “localizar”, do nosso computador, o qual teclamos quando queremos encontrar alguma palavra em um texto enorme. “O genoma é como se fosse esse texto e a CRISPR, a frase ou palavra escrita do modo errado que precisamos encontrar dentro dele”, resume.
Uma vez localizado esse trecho, a Cas9 faz o corte sem erro, gracas àquelas três letras finais. E aí, como Karina me ensinou, se fosse na natureza poderiam ocorrer duas coisas: “Uma delas seria a célula ligar as duas pontas da fita, que é o nosso DNA, depois de um pedaço dela ter sido cortado”, diz ela. “Outra possibilidade é a célula encontrar uma outra sequência homóloga, muito parecida, que serviria como um molde para reconstituir o trecho rompido. Assim a fita do DNA voltaria a ser como sempre.”
Claro que é desse segundo caminho que os cientistas tentam tirar o maior proveito, já oferecendo de badeja à célula uma sequência do jeitinho que eles querem — no caso de Karina, Priscila e seus colegas do Einstein, sem a mutação causadora da anemia falciforme. A ideia é que a célula se espelhe nesse bom exemplo e comece a reproduzir o trecho de DNA selvagem, adjetivo bonito dado pelo pessoal da genética para uma sequência perfeitinha com letras originais, por assim dizer.
Será então que é possível trocar em nosso DNA qualquer trecho alterado e causador de encrenca? “Em teoria, daria para editar qualquer trecho do DNA desse jeito, sim. Mas na prática alguns deles ainda são inacessíveis”, responde a biomédica Priscila Martin. Ela me conta que a razão seria molecular. É que a enzima Cas9, que faz as vezes de uma tesoura, é apenas a mais comum. No entanto, existem trechos do DNA que terminam com outros trios de letrinhas para os quais a Cas9 não adianta. Mas a ciência já conta com perto de 20 opções de Cas, o que aumenta barbaramente o leque de possibilidades de edições gênicas.
Outro ponto é que, por enquanto, é fácil buscar tratamento para doenças monogênicas, como a anemia falciforme, que envolvem um gene só, como o nome indica. Complicação — por enquanto sem saída — é tratar problemas como o diabetes, a hipertensão, a obesidade e tantos que têm a ver com centenas e centenas de genes alterados ao mesmo tempo.
A pesquisa com a anemia falciforme
No sangue de quem ganha de herança do pai e da mãe uma anemia falciforme, a mutação genética envolvida altera hemoglobina, a molécula que transporta o oxigênio. E, com isso, os glóbulos vermelhos terminam deformados. Em vez de bem redondos e elásticos, como seria o esperado, eles ficam endurecidos e assumem o formato de uma foice — daí o nome da doença. Então, é como se terminassem enroscados entre si ao percorrem veias e artérias.
Uns empacando os outros, esses glóbulos com jeito de foice têm dificuldade para passar pelos vasos mais finos, o que atrapalha a oxigenação dos tecidos. E vou lhe dizer: tudo em nosso corpo que não recebe oxigênio como deveria reclama na forma de dor. Basta você lembrar a angina no peito de quem sofre um infarto. Então, consegue imaginar pequenos infartos acontecendo da cabeça aos pés? Mas o sintoma doloroso é até o de menos, se pensar no cansaço e em todos os problemas provocados pela má oxigenação. Há aproximadamente 3.200 novos casos anuais da doença.
A pesquisa realizada no Einstein faz parte do Proad-SUS ( Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde). O alvo, me contam as duas pesquisadoras, são células-tronco da medula, aquelas que dão origem a todos às plaquetas, aos glóbulos brancos e, claro, aos glóbulos vermelhos que, nesse caso, são o que interessa.
“Primeiro, é cortado aquele trecho do DNA com a mutação por trás da alteração na hemoglobina”, diz Karina Oliveira. “Em seguida, introduzimos a sequência correta, sem a mutação, em um adenovírus que não causa doença alguma.” Esse vírus funcionará feito um cavalo de Troía, carregando para dentro da célula-tronco sem um pedaço do seu DNA a sequência em que ela deverá se basear para colocar algo ali naquele lugar vazio.
O estudo está em fase pré-clínica, a um passinho da fase em que o novo tratamento será testado em gente como a gente — por enquanto, foi feito com células humanas, mas aplicadas em camundongos. Se tudo der muito certo, a fase clínica com pacientes graves de anemia falciforme acontecerá entre este ano de 2021 até, no máximo, 2023.
Falta completar etapas como validação de boas práticas — algo sempre necessário na ciência de verdade. E garantir de vez — o que já é quase certo — a expansão das células editadas. O que isso quer dizer: provar que dá para multiplicá-las para alcançar quantidade suficiente para um transplante em ser humano, que necessita de um volume maior do que um pequenino camundongo. Mas podemos aguardar mais um bom motivo para aplaudir a ciência.
E, aliás, como bem lembra Karina Oliveira, devemos aplaudir inclusive a beleza da ciência básica. É a área que procura entender algo na natureza sem a pretensão inicial de que, um dia, esse conhecimento será útil ou aplicável. “Temos uma tendência a valorizar o que já está para se tornar um novo tratamento, mas se não fosse um pesquisador observando lá trás o que acontecia em uma bactéria, sem saber no que iria dar, jamais teríamos o CRISPR-Cas9”, exemplifica. Ela tem razão. O conhecimento merece aplausos por si só. E eu penso que, em uma hora ou outra, ele sempre se torna muito precioso. Esperto é quem fica de olho, apoia e torce.
Fonte: UOU